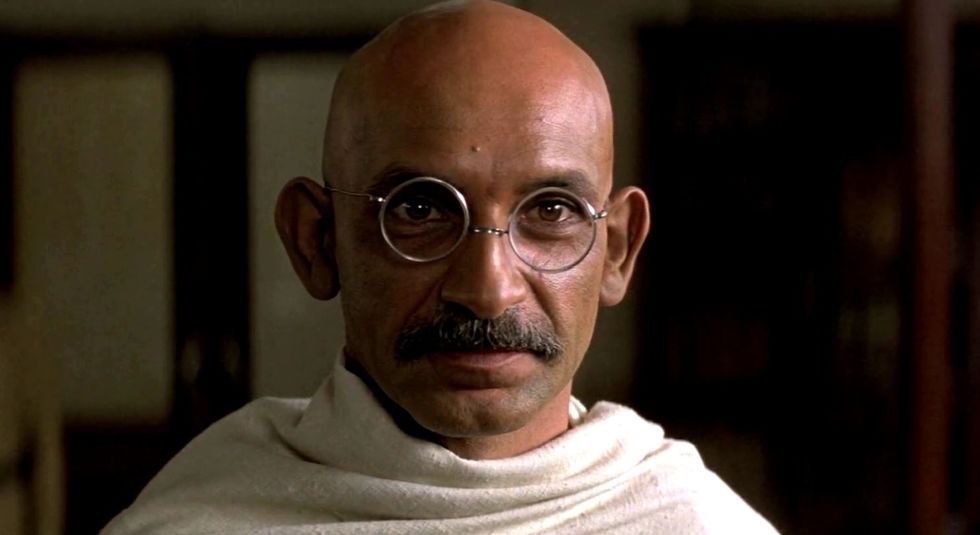Num prédio localizado na rua 81 com a Park Avenue, na região nobre de Nova York conhecida como Upper East Side, a tela do computador mostra sítios da civilização assíria. É o passo inicial para os estudantes virarem arqueólogos, convidados a uma aventura virtual. Eles simulam escavações como se estivessem num desses jogos multimídia. Capturam objetos que vão de esculturas, passando por talheres, pratos, jóias até pinturas. Os objetos, agora, são analisados com um professor de história, que oferece dicas e reflexões sobre como viviam os assírios.
Com um toque de botão, aparece na tela um banco de dados on line criado para embasar aquelas informações, monitorado por professor PhD; o professor tem o suporte de uma livraria com mais de 60 mil livros, com obras históricas sobre aquele período.
Depois, eles saem do mundo virtual. A poucos metros, menos de dez minutos a pé, está o Metropolitan Museum of Art, com uma vasta coleção sobre a civilização assíria. Vêem ao vivo o que escavaram pela tela do computador.
“O olhar mudou. Eles passam a ver uma peça arqueológica com os olhos de quem, de alguma forma, participou da descoberta”, afirma Frank Moretti, responsável pelo Centro Tecnológica da Dalton.
Com uma mensalidade de US$ 1.700 (e ainda não dá para cobrir os custos), Dalton é considerada, hoje, a escola de segundo grau em que são feitas as mais avançadas e bem-sucedidas experiências de uso de computador em sala de aula. Lá são criados os programas e, depois, testados com os alunos.
O currículo da Dalton foi repensando a partir do computador. Os alunos aprendem astronomia por meio de imagens do telescópio Hubble, conectado à Internet. Sensores foram espalhados numa floresta, junto com a Universidade de Harvard, fazendo com que os alunos recebam on line informações que lhes permitam estudar química ou biologia.
Eles aprendem Shakespeare usando um banco de dados com imagens das mais variadas interpretações, por exemplo, de “Macbeth”; inclusive as cenas produzidas por Orson Welles, em 1948. As aulas de literatura inglesa são acompanhadas da captura de quadros, espalhados pelos EUA e Europa, devidamente esmiuçados graças aos truques digitais.
Esse relato certamente parece ao leitor brasileiro mais um jogo virtual. Em especial, se for suscitada a possibilidade de reprodução numa escola pública, na qual pouca gente sabe quem foi Orson Welles ou sabe escrever o nome de Shakespeare, além de não ter a mais remota noção sobre quando e onde viveram os assírios.
Por sua importância na formação da opinião educacional americana, a Dalton é um dos cenários que ajudam a redefinir não apenas os conceito de educação, com novos papéis à escola, alunos e professores. Mas, inclusive, o que significa ser alfabetizado, apto à integração e sobrevivência no mercado de trabalho.
Todo esse monumental elenco de testes de Dalton é transferido às escolas públicas, mesmo as dos bairros mais pobres; professores são treinados e softwares distribuídos gratuitamente. A transferência do conhecimento do Upper East Side, com seus milionários apartamentos, para o Harlem, infestado de drogas e gangues, revela uma tendência: o domínio das técnicas digitais estabelece o limite contemporâneo do analfabetismo.
Num projeto da Microsoft, são entregues, com preços subsidiados, laptops às crianças pobres de Nova York, que vivem em bairros violentos; as máquinas são adquiridas pela escola. É parte do material escolar. Elas levam o computador para casa e, depois, usam na escola. Em casa, ensinam aos pais os primeiros “teclados”. Cena comum: pais escoltam os filhos para que ninguém leve o computador.
Virou prioridade de toda uma nação ligar todas as salas à Internet, obrigando os professores a se reciclarem. São sugadas as experiências mais avançadas desenvolvidas nas escolas mais ricas, laboratórios e universidades. A forma como se produz riqueza depende mais e mais de uma mão-de-obra treinada em computação.
A redefinição sobre ser alfabetizado aumenta ainda mais o tamanho e o desgaste de uma velha mentira brasileira, repetida em livros e estatísticas. Segundo os números oficiais, o Brasil teria 20 milhões de analfabetos. Ou seja, gente incapaz de ler ou escrever um bilhete simples. Essa mentira foi aperfeiçoada e, hoje, é a que está em uso pelos educadores. Seria necessário um nível mínimo de entendimento, obtido com, no mínimo, quatro anos de estudos, os chamados analfabetos funcionais.
Por esse critério mais rigoroso, os 20 milhões pulariam para 50 milhões. Quantos seriam, porém, os analfabetos digitais, despreparados para lidar com os computadores e, muito menos, com suas redes de informação?
Ninguém sabe a resposta, mas dá uma leve idéia do desafio colocado para o Brasil, que, até agora, mal passou da descoberta do analfabeto funcional para o digital. O desafio é tirar as escolas, particularmente as públicas, do começo do século 20, dando-lhes cem anos de modernidade. Possível?
Qualquer um com um modem na mão pode buscar a informação que quiser em qualquer lugar; de um quadro de Picasso a uma poesia de Dante, a um livro de física. Desde a Bíblia de Gutenberg, em 1456, a humanidade não pára de alargar as chances de disseminar a informação; a Internet é o coroamento dessa evolução.
Estão alargados não apenas os limites de alcance de dados, mas alterada a própria maneira de ler -assim como o livro da forma que conhecemos, possível de ser folheado e inventado no tempo dos romanos, mudou os hábitos para melhor de quem estava acostumado a ler os rolos.
Com o hipertexto, o leitor vai pulando de um artigo para outro, de uma homepage para outra, distantes geograficamente milhares de quilômetros. No livro tradicional, lemos do começo ao fim; no máximo, vamos ao pé da página para informações complementares, mas não saímos do lugar.
O leitor digital não é só consumidor de informações, mas produtor, ele interfere, deixa suas opiniões, compartilha o conhecimento. “A tecnologia criou o paraíso do autodidata”, sustenta o jornalista Paul Gilster, autor do recém-lançado “Alfabetização Digital” (Digital Literacy, Wiley Computer Publishing, US$ 22.95).
O ponto central da discussão é: como um país pobre como o Brasil lida com esse vendaval? “Nunca se deixem impressionar pelas máquinas, é a parte menos importante”, afirma Frank Moretti, que costuma receber professores e educadores de nações subdesenvolvidas.
“Descobrimos aqui que a máquina só presta mesmo quando melhoramos o professor. Do contrário, passa despercebida”, afirma Moretti. Foi essa dica, aliás, que Moretti deu aos funcionários do Ministério da Educação brasileiro, envolvido no projeto de instalação de 100 mil computadores.
Há abundantes relatos sobre como o computador foi desperdiçado em sala de aula, não apenas em relação à produtividade. Existe uma óbvia diferença entre entendimento -relacionar os dados dando-lhe significado- e obter informação. A informação é abundante, mas vale pouco com escassez de entendimento. Basta ver o olhar do guarda do museu diante das obras de arte que ele vê várias horas por dia. Ele tem os quadros -as informações-, mas não o entendimento. O novo papel do professor é o de ser um conselheiro, uma ponte entre a informação e o entendimento; e, a partir dessa combinação, um estimulador de curiosidade e fonte de dicas para que o aluno viaje sozinho no conhecimento, obtido nos livros e nas redes de computador.
Evitar o analfabeto digital que, paulatinamente, vai fazer parte da agenda brasileira, por exigência do poder econômico, vai depender mais do tipo de professor formado do que do computador que compramos. O problema é que formar professor é mais caro e demorado do que comprar máquina. No final, compensa: o resultado é verdadeiro e não virtual.